Compaixão
 “Você não tem compaixão?” Foram as últimas palavras que ouvi numa noite nefasta qualquer. Naquela época, todas as noites eram nefastas, mas aquela havia sido diferente, porque tais palavras vieram da boca de uma mulher tão frágil, e quando caíram sobre a minha cabeça foi como a força de um martelo sobre um prego pequeno e fino demais. A força foi tanta que entortei.
“Você não tem compaixão?” Foram as últimas palavras que ouvi numa noite nefasta qualquer. Naquela época, todas as noites eram nefastas, mas aquela havia sido diferente, porque tais palavras vieram da boca de uma mulher tão frágil, e quando caíram sobre a minha cabeça foi como a força de um martelo sobre um prego pequeno e fino demais. A força foi tanta que entortei.
Ao entortar, pude olhar para dentro de mim mesmo. E o que vi? Vi a podridão de minhas entranhas, o vazio de minhas veias saltadas e senti uma repugnância amarga. Resolvi me afastar daquele lugar, daquela gente, daquela cidade e tomei o primeiro ônibus. Ainda sem saber para onde deveria ir, escolhi parar no destino final. Cheguei em São Francisco na madrugada do dia seguinte e sem ter para onde ir, me escondi da chuva no cemitério que fica atrás da Igreja Matriz, no centrinho antigo. Ali eu poderia ter o silêncio de que necessitava. Ainda estava impressionado com minha própria aspereza.
Fiquei sentado num mausoléu sem comer, nem beber por dois dias, até o que o Pe. Odir Ritter se aproximou de mim. Foi um fio de esperança no que ainda me restava de alma. Acolheu-me na Casa Paroquial, me deu de comer e beber, me vestiu com roupas limpas, me ensinou um trabalho e me despertou uma vocação. Em pouquíssimo tempo, eu estava ajudando nas coisas da igreja. Aprendi a rezar e, o mais importante, aprendi o significado de compaixão. Pe. Odir tivera compaixão de minha condição, do pobre diabo que eu era. E foi sua compaixão que me transformou num homem melhor, que me fez professar os primeiros votos. Nunca fui um bom homem, mas hoje sou melhor do que antes. Pelo menos posso dizer que senti compaixão uma vez na vida.
Eu sempre era o último a sair da igreja. Fazia questão de fechar tudo, porque o Pe. Odir já estava mais velho e cansado, sabe como é, né? Hoje em dia, as igrejas e os idosos são alvo fácil. Como sempre faço, guardei o dinheiro das ofertas no cofre da sala do pároco. O Pe. Odir sempre gostou de dar uma caminhada para tomar a fresca após a última missa de domingo. Só não ia quando chovia. Nunca o tinha visto sair, porque eu sempre cuidava de fechar tudo na igreja e isso levava tempo. Às vezes, um casal de ministros da eucaristia me ajudava, mas isso acontecia só quando era dia do plantão deles na missa.
Naquela noite, pensei que esse era um hábito interessante esse do Pe. Odir e resolvi fazer o mesmo. Mais coisa aprendida com ele, com seu exemplo. Saí sem rumo, como há muito tempo não fazia. O Pe. Odir havia me dado alguns rumos e um deles era o rumo de casa. Senti uma sensação de liberdade como há muito não sentia e gostei disso. Não havia ninguém na rua. Eu ouvia só mesmo o barulho de gatas no cio. São Francisco é uma cidade pequena, mas tem gato demais. Andei por cerca de meia hora. A noite estava muito clara e fresca e resolvi pegar a estradinha para a roça. O cheiro do mato me atraía. Caminhei uns 100 metros pela estradinha, a casa da Sá Luisa já estava longe e a fazenda do Nhô Ladislau ainda nem apontava, quando ouvi gemidos vindos do mato. Uns gemidos ofegantes. Parecia um misto de prazer e dor, não sei explicar direito. Resolvi me aproximar devagar pelo mato e pude perceber que uma mulher estava sendo atacada. Havia uma lanterna no chão, acesa. Eu tinha somente um canivete que sempre estava no meu bolso, que já me serviu bastante pra descascar laranja e cana. Aprendi isso também com o Pe. Odir. Naquele momento, tirei o canivete do bolso. Silenciosamente, alcancei a lanterna e apontei-a em direção ao safado.
Vi um homem, que estava de costas para mim, agarrando violentamente a mocinha da padaria. A moça estava quase nua, as roupas rasgadas, aos prantos, desesperada, coitada! Percebeu minha presença e manteve-se quieta. Senti compaixão pela sua situação, uma fragilidade insegura de quem é incapaz de tomar uma atitude ante a violência sofrida. Já vi isso muitas vezes, mas aquela foi a primeira que despertou minha compaixão. Não pensei duas vezes e parti pra cima do homem com meu canivete em punho. Devo ter dado uns seis golpes sem nem pensar e quando ele se virou para mim, vi quem era ele. Todo o ódio dos tempos nefastos que estava adormecido nas entranhas da minha alma veio à tona. Sem pensar, golpeei umas vinte vezes o Pe. Odir. Enquanto isso, a moça pegou o que ainda restava da roupa rasgada e saiu correndo pro meio do mato. Eu terminei o serviço, peguei a lanterna e voltei pra casa, suado, sujo, anestesiado. Tomei um banho e fui dormir ainda sob o torpor do cheiro de sangue. Pela manhã, me avisaram que encontraram o Pe. Odir morto, esfaqueado no mato. Sentei na cadeira da varanda e chorei. Ele nunca soube quem eu fui e mesmo assim havia me acolhido. Mas eu sei muito bem quem foi ele: foi o pai que eu nunca tive, foi o irmão que eu matei, foi o golpe da vida, a primeira dose depois de um período limpo.
— Você começou o tratamento há três semanas e todos os dias, me conta a mesma história.
Olhei para aquele homem vestido de jaleco branco, o nome bordado no bolso direito, na altura do peito. Não devia ter mais que cinquenta anos. Uns quarenta e cinco, talvez. Os primeiros fios brancos já se destacavam nas têmporas. A sala onde estávamos era toda fechada, ostentava apenas uma janelinha pequena e gradeada, por onde entrava um tênue facho de luz. À nossa frente, um janelão de vidro, por onde eu não via nada. Olhei para as minhas mãos. Algemadas.
— Você sabe por que está aqui?
— Me condenaram.
— Você é um psicopata. Matou o padre, depois de violentar e matar a moça da padaria…
As imagens daquela noite começaram a se confundir na minha cabeça com as imagens de outras noites, de outros lugares, de outros tempos.
— Hoje você vai tomar sua dose de acetato de medroxiprogesterona. Um remedinho que vai te fazer muito bem e melhor ainda à sociedade.
— Pena de morte?
— Não, mas para um homem como você é como se fosse – e virou-se de costas, preparando a injeção.
Levantei-me da cadeira e num salto, acertei o médico. A injeção caiu e quando fui pegá-la, senti dois pares de mãos grossas me segurando. Levei um soco no meio da cara, quase quebraram meu nariz. Fui amarrado à cadeira.
Notei a face sádica do médico enquanto me aplicava o tal acetato. Baixei os olhos, ainda tonto pelo soco no nariz. Não queria morrer, não queria ficar bobo.
— Você não tem compaixão? – perguntei-lhe.
— Não – respondeu-me secamente. Depois, me encarou no fundo dos olhos. Encarei-o também. Era um olhar conhecido, profundo e quase misericordioso. Continuou, enquanto apertava meu braço com um algodão embebido em álcool:
— Se eu fosse normal, não só sentiria compaixão por você, mas também acreditaria nas suas mentiras e poderia até sentir alguma empatia. – atirou o algodão na bandeja. Pegou sua maleta, abriu a porta e enquanto os dois brutamontes me desamarravam da cadeira, virou-se para mim e disse:
— No fundo, eu sou igualzinho a você. A diferença, agora, é que eu não sou castrado.
Antes que se virasse, olhei novamente para o jaleco grande e alvo que usava. Ainda tonto do soco e talvez do efeito do remédio, reli seu nome bordado no bolso direito, na altura do peito: “Dr. Ranulpho Ritter”.

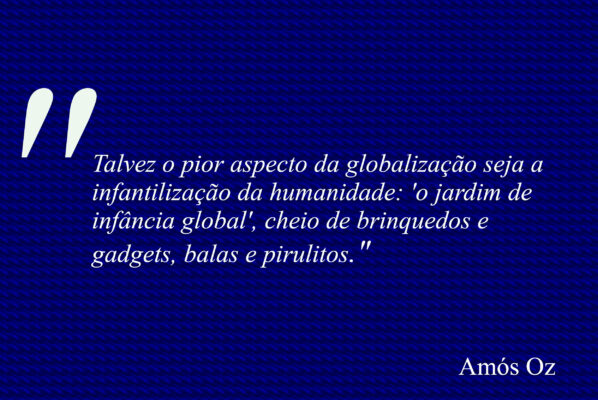
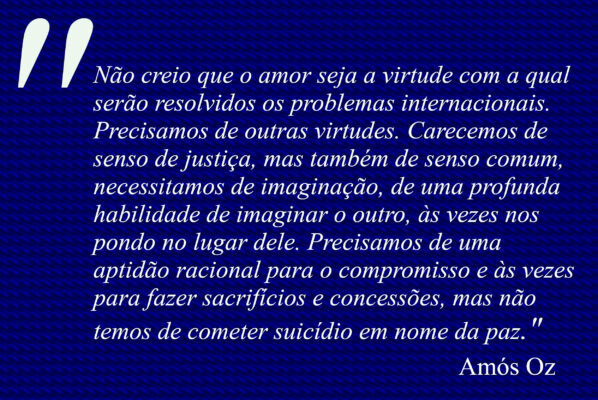
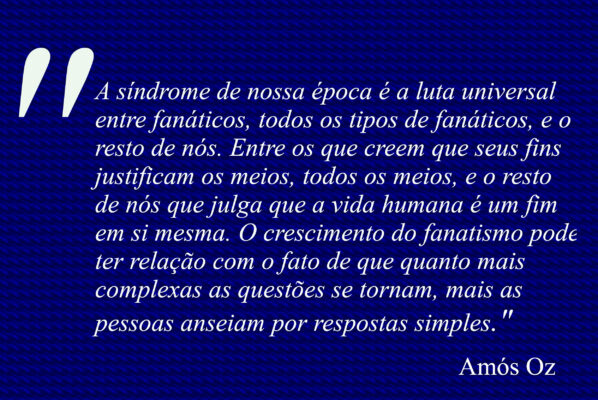

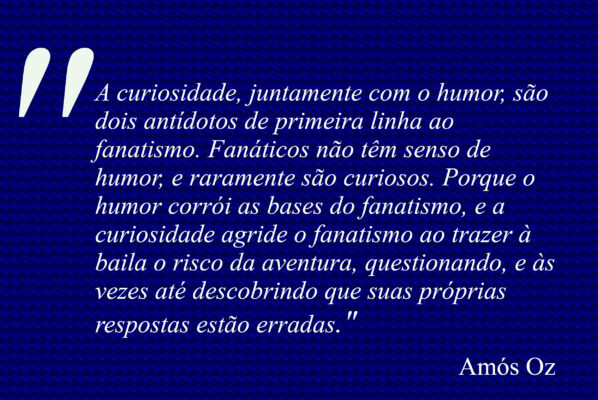







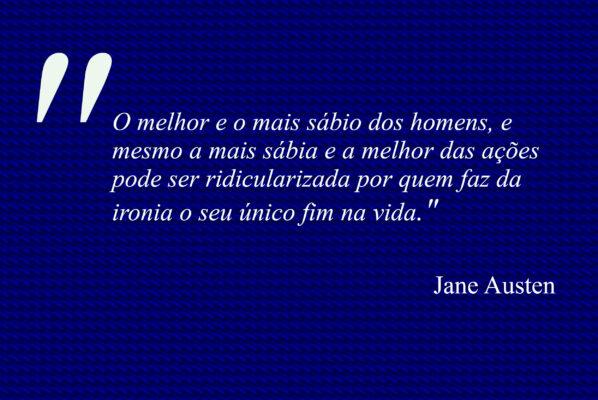
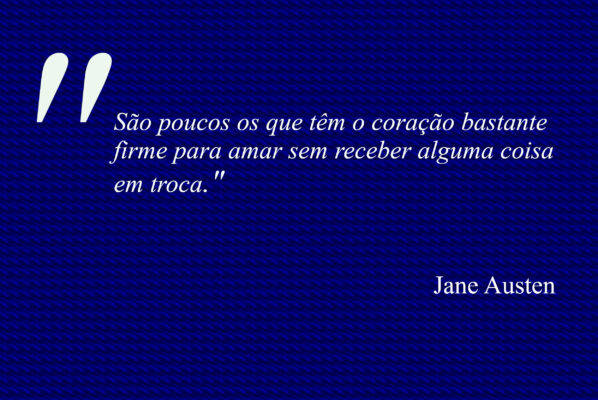




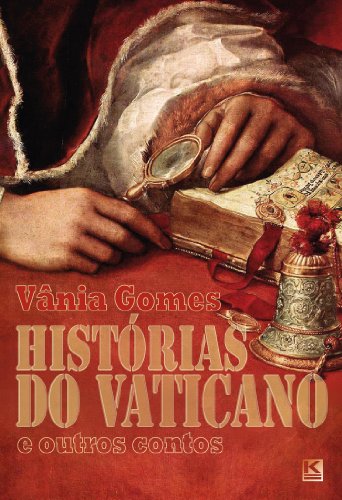


Boa noite eminente poetisa Vânia Gomes, seus versos enredam a sordidez que podemos presenciar vida a fora, de onde se espera boas ovelhas, brotam raposas letais, e Hienas de sorrisos sarcásticos, parabéns pelo seu redundante conto, um forte abraço, MJ.
Meu querido amigo e poeta, Miguel Jacó!
Obrigada por sua presença sempre amiga aqui neste meu espaço.
Que bom que gostou do conto!
Grande abraço.