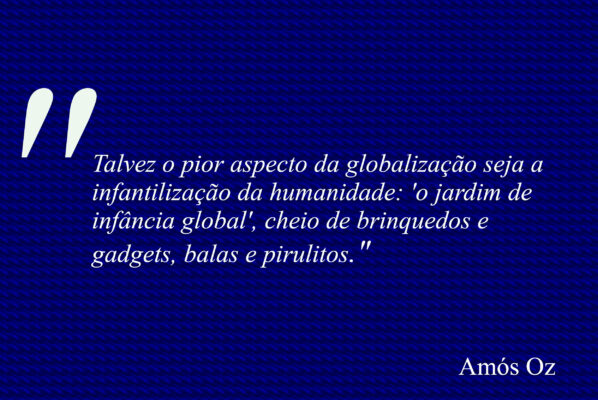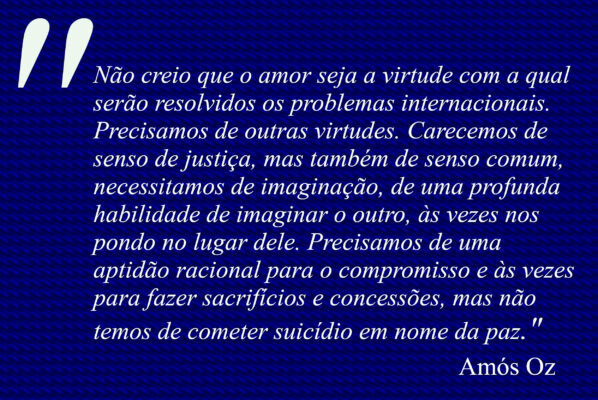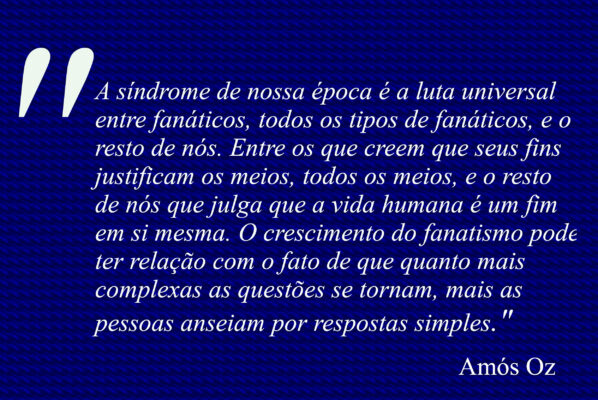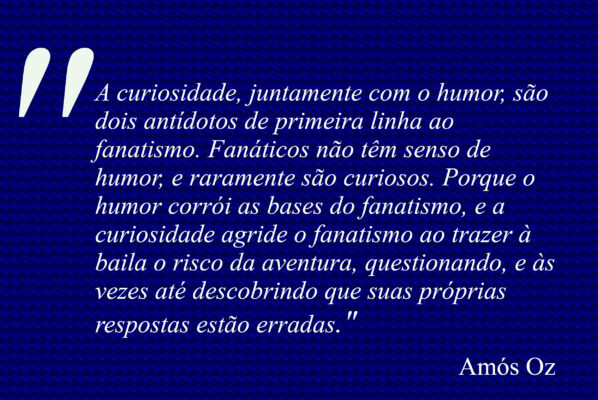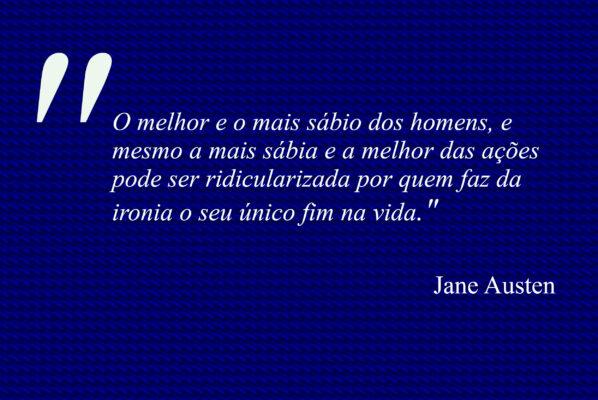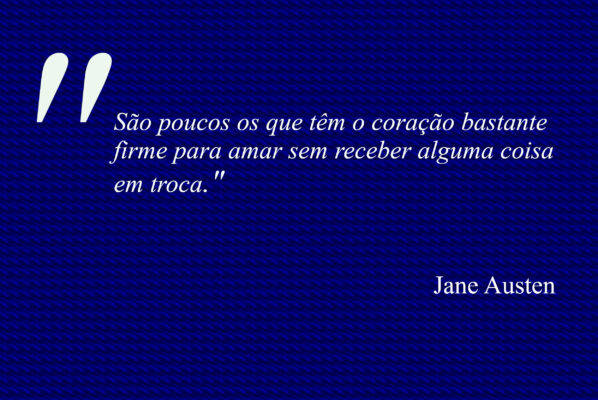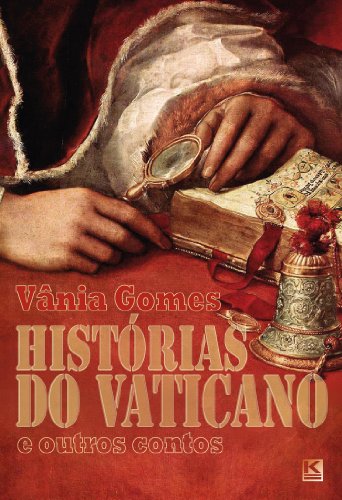O jardineiro
 Achava aquilo tudo patético. Todas aquelas flores, as lágrimas, os montes de amigos tristes e chocados jamais mudariam o futuro. Tampouco o passado que resultou naquele presente que se desenrolava na capela 11 do Cemitério de Barnstoke.
Achava aquilo tudo patético. Todas aquelas flores, as lágrimas, os montes de amigos tristes e chocados jamais mudariam o futuro. Tampouco o passado que resultou naquele presente que se desenrolava na capela 11 do Cemitério de Barnstoke.
— Oi, Benjamim, meus sentimentos — era o que todos me diziam. Alguns me abraçavam e derramavam lágrimas em minha roupa que, depois de meia dúzia de amplexos, passou a exalar diferentes cheiros que me enjoavam.
O caixão estava lacrado, como era a regra para mortes brutais como a de Ivete. Ficou desfigurada, logo ela que era tão vaidosa, tão bonita… As pessoas se aproximavam da urna, sem poder ver a defunta, nem tocá-la. Ali pranteavam, rezavam. Conversavam com minha sogra, que estava inconsolável, sempre sentada à beira do caixão. Eu, em silêncio, percebia não era alvo da simpatia de muitos, pelo contrário, alguns pareciam até sem graça comigo. Talvez soubessem de tudo desde o início, talvez tivessem sido cúmplices dos fatos que culminaram naquele final trágico e funéreo. De certa forma, poderiam até se sentir responsáveis pela morte horrenda de que Ivete foi vítima, já que acobertaram seus delitos, lhe serviram de álibi.
A mistura de aromas na minha roupa e o olor forte e característico das flores fúnebres ardiam meus olhos e os deixavam vermelhos, e então precisei sair daquele recinto que, aproximando-se a hora do cortejo, estava ficando insuportavelmente cheio. Dali fui à matinha do lado oposto ao movimento, parecia um lugar seguro.
Adentrei o ambiente, ligeiramente escuro devido à abundância de árvores. Estava bem mais fresco do que no velório e o olor era mais suave e natural, refrescava minhas castigadas narinas. Aquele era um local estratégico para observar melhor a procissão que se iniciaria em minutos, sem fazer parte dela. Não queria seguir o caixão, não queria chegar à beira da cova, não queria jogar uma flor, nem torrões de terra. Bastava ver a cena e todos os seus personagens travestidos de piedosos amigos, sentimentais com a família da finada Ivete, no ocaso de sua breve, porém perturbadora existência.
E foi então que notei que o aguardado fim estava ali mesmo, na capela 11. E o fim não se resumia à Ivete morta, mas terminava com ela uma era de tormento para mim. E pensar nisso, em meio às trevas da matinha do cemitério da cidade natal do grande e terrível amor da minha vida, me encheu de esperança.
— Você gostava do que via — apontou o terapeuta, interrompendo um pouco o meu raciocínio.
— Estava gostando mesmo de ver todo mundo perplexo, chocado, triste e… culpado. Pela morte dela e, de certa forma, pela minha também. Mal sabiam que aquilo tudo era vida; morto eu estava antes, submetido àquele amor doentio por Ivete.
Quando a conheci, pensei que havia encontrado minha alma gêmea. Alguma conexão espiritual nos ligou imediatamente. Tínhamos apenas 13 anos e frequentávamos os bailinhos organizados pelo clube de remo, onde minha meia-irmã era atleta e o pai de Ivete administrador. Desde esse dia até o fim, foram 15 anos de um relacionamento de idas e vindas, de constantes perdas e controle de danos emocionais.
Ivete não era fácil — sua própria mãe me avisou quando a pedi em namoro. Estávamos com 15 anos e eu acreditava piamente que nossa convivência pudesse nos transformar, afinal éramos bastante jovens e tínhamos o mundo inteiro à nossa volta para aprender, para explorar. Ledo engano: apenas eu passei por mudanças, tentando explorar o íntimo daquela garota sempre intensa, suas arestas, seus percalços e obstáculos. Fazia de tudo para alcançá-la. Nunca consegui.
Ela mesma ria de meu esforço, sempre inútil. Na sexta vez em que voltamos, lhe propus casamento; estávamos com 24 anos. Não podia mais viver sem aquela energia arrebatadora e inalcançável. Ela não aceitou, dizendo que sua alma livre não foi feita para se amarrar numa aliança. Mas em dois dias, mudou de ideia e então ficamos noivos num jantar íntimo, para as famílias apenas. Os pais de Ivete estavam visivelmente felizes e aliviados; os meus, tentavam parecer simpáticos, mas estavam apreensivos e conformados.
Quando contávamos com quase dois anos de casados, percebi mudanças no comportamento sempre apaixonado de Ivete. Estava dócil como nunca e começou a convidar amigos e colegas do trabalho para festas que passamos a oferecer em casa — ideia dela. Época prazerosa, a que mais a amei, porque estava sempre planejando um evento para irmos ou organizarmos. Ela se entusiasmava e eu ficava feliz em vê-la feliz.
O prazer durou poucos meses. Todo aquele planejamento era para que encontrasse seu amante e pudesse passar mais tempo com ele. Ivete se apaixonara por um colega de trabalho, um homem sem grandes qualidades, mas que sabia domá-la e o fez com destreza. Soube por acaso, quando a vi na praia de mãos dadas com um dos “amigos” que frequentava a minha casa nessas festas. No dia, fiquei chocado, afinal era horário de trabalho, e eu estava indo para uma visita rotineira a um cliente do banco, cujo negócio era na Beira-Mar.
Em casa, mais tarde, quando ela chegou, inventei um mal-estar qualquer, fiz um chá e fui dormir bem cedo. Na verdade, não preguei o olho, tentando compreender a peça que a vida estava me pregando.
Passei a seguí-la a partir do dia seguinte. Em poucos dias, descobri que todos os seus amigos, aqueles mesmos que iam às nossas festas, acobertavam suas loucuras de amor. Ela, embora estivesse mais dócil, continuava sem se importar comigo e não fazia a menor questão de esconder seu novo relacionamento. Quiçá quisesse que eu tomasse alguma atitude ou, perversa como era, que eu armasse uma briga ou algo do tipo, por ela. Um duelo, quem sabe?
Não posso dizer que Ivete levava uma vida dupla, porque rapidamente entendi que para ela estava tudo normal. Tínhamos nossa casa e ali vivíamos com nossos cães. A vida dela dali para fora não era da minha conta.
Era eu quem levava a vida dupla. Em casa, era o marido perfeito. E fora, era o detetive profissional. Seguia cada passo de Ivete, sabia onde estava, com quem estava. Fiquei obcecado com a perseguição, em saber cada passo de minha mulher e de seu amante.
Essa obsessão me fez especializar em disfarces. E assim conseguia estar em todos os lugares em que ela ia com o amante, o que era fácil, pois eles tinham uma rotina. Só não conseguia mesmo entrar no quarto do casal — não enquanto estava ocupado —, na casa que eles alugaram para se encontrarem longe de olhares curiosos.
E foi disfarçado de jardineiro que me tornei a principal testemunha do assassinato de Ivete. A polícia está certa de que o assassino é o amante, mesmo porque não consegue encontrar o jardineiro que esteve na casa cortando a grama justamente no funesto dia. Todo mundo sabe que apenas o amante de Ivete declara ter visto esse homem. Nenhum vizinho o viu. A grama não foi cortada, as roseiras precisam de poda, o jardim estava intocado.
As provas do crime eram contundentes e o álibi do amante não convence. A tesoura de poda usada no crime tinha as suas digitais, a roupa que ele usava tinha manchas de sangue, a fisionomia impressionada no dia do assassinato o denunciava, ainda que ele insistisse em acusar o pobre (e invisível) serviçal.
Fui chamado a prestar depoimento e neguei que soubesse do relacionamento extraconjugal de minha esposa. Desempenhei com perfeição meu papel de corno manso. O mais inocente em todo esse enredo torpe era eu — outra certeza que a polícia rapidamente alcançou. Chorei muito e senti muito a morte da Ivete, minha companheira a quem dediquei minha vida toda.
Minha casa também foi revistada e tudo o que encontraram foi o rascunho de um pedido de divórcio no computador pessoal de Ivete, coisa que eu ignorava completamente que estivesse em seus planos.
Para todos, só fiquei sabendo da traição de Ivete com a sua morte. Meus pais me levaram para a casa deles logo que souberam da tragédia. Acham que ainda estou em choque, perturbado, mesmo após dois anos desses acontecimentos, os mais trágicos da minha vida.
Eles não entendem que o fim de eras importantes requer um silêncio de recomeço. Estou recomeçando minha vida e eles, mesmo sem saber, estão me ajudando: me protegem do mundo, não deixam que eu fique sabendo de nada do caso. Não quero saber, quero uma nova vida, eles me fazem feliz, embora achem que estou perturbado e por isso insistem em me mandar para essa terapia aqui com o senhor.
— Hoje resolveu falar, depois de quase cinco meses… — observou o terapeuta.
— O resto é resto, e é desimportante. Ninguém foi amigo de Ivete como eu fui. Ninguém jamais a amou como eu. Aquelas lágrimas falsas no velório e aquelas coroas de flores ainda atormentam minhas memórias. Ali, na capela 11 do Cemitério de Barnstoke, acabou meu sofrimento e, mesmo assim, eu não gosto nada daquele cenário. Queria algo mais verdadeiro e menos oloroso, sem aquele monte de figurantes menos falsos.
No fim, depois que todos se foram, fiz questão de pisar naquele túmulo no chão. Ninguém à vista, já anoitecendo, aproveitei e adubei gostosamente aquela sepultura. Cobri de terra, não queria ver exibida a fétida obra de meu desprezo.
Sentia raiva por tudo. Pela minha mansidão e obsessão por aquela mulher. Por ela ser sempre tão segura e por me humilhar tanto. A verdade é que Ivete nunca poderia ter feito parte da minha vida. Estragou tudo o que eu poderia ter sido, e meus pais sabem disso, sempre souberam. Estou em plena recuperação dos danos de 15 anos de convivência com uma pessoa que esbanjava energia, toda ela sugada de quem se aproximasse. Talvez por isso Dennis a matou.
— Dennis? Quem é Dennis? — perguntou o psicanalista, sem sequer levantar o olhar.
— Ora, Dennis é o jardineiro!